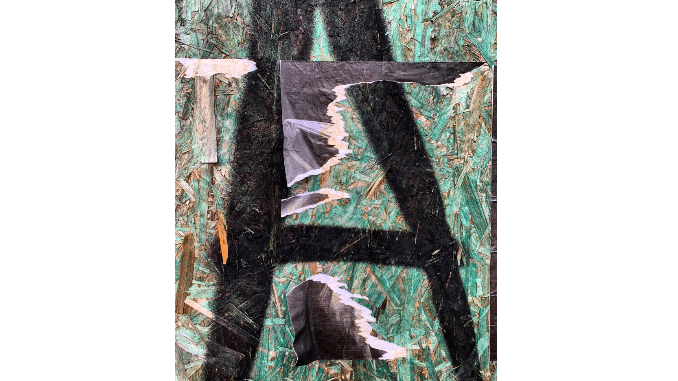Por FERNANDA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA*
A cineasta belga utiliza a cor como um elemento essencial para investigar e ilustrar o estado de espírito da felicidade, acreditando que a felicidade não pode ser ilustrada em preto e branco
O que é a felicidade? Seria possível representá-la ou evocá-la? Em caso afirmativo, ela seria colorida ou em preto e branco? A cineasta belga radicada na França Agnès Varda (1928-2019) se incumbiu da tarefa de investigar esse estado de espírito em seu primeiro longa-metragem de ficção colorido. Ela utilizou a cor porque, a seu ver, “a felicidade não pode ser ilustrada em preto e branco” (VARDA apud BORGES, CAMPOS; AISENGART, 2006, p. 85).
Le bonheur (1965), cujo título é costumeiramente traduzido para o português como As duas faces da felicidade, foi feito após alguns curtas e dois longas em preto e branco que lhe renderam o devido reconhecimento da crítica, La Pointe Courte (1956), considerado precursor da Nouvelle Vague, e Cléo das 5 às 7 (1962).
O filme conta a história da família Chevalier, composta pelo marido, François (interpretado por Jean-Claude Drouot), sua esposa, Thérèse (Claire Drouot), e os dois filhos do casal, Gisou e Pierrot (Sandrine e Olivier Drouot). A família é feliz em seu cotidiano harmonioso, permeado por passeios pelo campo. Apesar disso, em uma visita ao correio, François conhece a funcionária Émilie (Marie-Françoise Boyer), imediatamente se encanta por ela, e, após alguns encontros, eles iniciam um romance extraconjugal.
Cerca de um mês depois, durante um dos costumeiros passeios familiares, ele confessa seu caso à esposa, que, a despeito de um ligeiro incômodo inicial, aceita a situação. O marido se sente mais feliz do que nunca, aproveita sua companhia, enquanto os filhos dormem, e logo também adormece. Thérèse é a única que se mantém desperta e sai para passear. Logo que François e seus filhos acordam, constatam sua ausência e saem à sua procura. Ela é encontrada morta em um lago próximo.
Sucedem-se, então, seu enterro e o envio dos filhos a um casal de familiares, cuja mulher é capaz de lhes prestar os devidos cuidados. Após tornar-se viúvo, François pede Émilie em casamento, que, a princípio relutante, aceita a proposta e logo passa a ocupar as funções previamente desempenhadas por Thérèse relativas ao cuidado do marido, dos filhos e da casa.
O longa segue uma estrutura narrativa convencional, com introdução, desenvolvimento e conclusão bem delineados. A narrativa é desenvolvida a partir do ponto de vista de François, e seus desejos desencadeiam a sucessão lógico-causal dos acontecimentos da história, exceto pela morte de Thérèse. Entretanto, o que pode parecer comum à primeira vista revela, sob uma visada mais cuidadosa, um erudito projeto estético com caráter político, que tem como elemento basilar um uso peculiar das cores.
A adição das cores correspondeu ao último degrau em direção ao realismo no cinema, cujo paradigma foi inspirado na tradição pictórica. Sua utilização pioneira visava reforçar a caracterização dos personagens e harmonizar emoções e situações por meio de uma aplicação fundamentada em estudos da psicologia. Nesse sentido, elas basicamente podem ser classificadas em quentes e frias, e daí decorrem seus usos. Por exemplo, cores quentes (vermelho, laranja e amarelo) evocam sensações de excitação, atividade e calor; por sua vez, cores frias (verde, azul e roxo) sugerem descanso, facilidade e frescor. A adequação das cores aos elementos do filme depende do roteiro, de modo que lhes cabe um papel coadjuvante no desenvolvimento da narrativa (KALMUS, 1935). Como resultado da aplicação da psicologia das cores, o cinema clássico acabou por instituir padrões de significação em uma associação quase literal entre cor e significado.
Le bonheur também utiliza a cor para ressaltar aspectos da narrativa, mas não se limita a reiterar convenções adotadas pelo cinema clássico. Como parte do cinema moderno francês, que constituiu o uso da cor como um domínio autônomo (em uma empreitada semelhante à que os artistas modernos realizaram no campo das artes visuais), o filme faz uma consequente articulação da teoria das cores, e seu sentido só pode ser compreendido quando elas são tomadas como objeto de investigação que não apenas complementa a narrativa, mas a constitui.
Nos termos de Richard Neupert (2009): “Entre os estilistas da cor dos anos 1960 e do cinema moderno europeu, Agnès Varda oferece uma paleta individual e significativa”. Isso porque ela “foge das armadilhas do cinema clássico e tradicional, mas também dos códigos demasiado simplistas e simbólicos que implicam correspondências fixas.” Esse é um dos aspectos que denota o distanciamento da cineasta em relação ao cinema clássico e sua aproximação da arte moderna.
Em entrevista concedida a Yvonne Baby, publicada no jornal Le Monde em 25 de fevereiro de 1965, Agnès Varda afirmou que pensou nos impressionistas. Para ela, “em seus quadros, há uma vibração da luz e da cor que […] parece corresponder exatamente a uma certa definição da felicidade” (VARDA apud BORGES, CAMPOS; AISENGART, 2006, p. 85). O filme estabelece sua referência visual e temática ao impressionismo, porém não consiste apenas em uma interpretação audiovisual dessa importante tendência artística.
Especificamente, tal como afirma Laura Carvalho (2012, p. 12), “a cineasta atesta sua filiação à arte moderna ao criar um sistema livre de utilização simbólica da cor no cinema”. Isso porque a arte moderna se desenvolveu a partir de uma clara oposição às normas de composição preconizadas pela tradição da arte acadêmica. Os impressionistas deram início à largada, com seu intuito de registro da realidade tal como se apresenta no instante, mas foram os grandes mestres coloristas modernos posteriores, tais como Henri Matisse e Wassily Kandinsky, que levaram a cabo a tarefa de libertação das cores na arte. Foi assim que elas ganharam autonomia, passando a ser utilizadas como mais um meio para expressar ou construir o que quer que o artista almejasse (LICHTENSTEIN, 2021).
Assim como os pintores modernos, Varda cria um sistema autônomo de utilização das cores que, em Le bonheur, caracteriza personagens por meio do figurino em diferentes momentos da narrativa, reflete estados de ânimo no cenário e realiza comentários críticos e irônicos.
Na maior parte do filme, Thèrése é caracterizada por um figurino composto por cores quentes (amarelo, laranja, vermelho e rosa) que ressoam a coloração geral dos passeios no campo primaveril ou mesmo da casa da família. Duas exceções relevantes a essa regra podem ser notadas em momentos específicos, a exemplo de certa interação com François, quando ambos trabalham na sala de casa; e de seu último passeio familiar. Nesses casos, a roupa de Thèrése é azul, e essa escolha não é arbitrária, como será visto logo mais.
Por sua vez, Émilie é caracterizada por um figurino composto por cores frias (azul, verde e roxo). Azul é a cor de seu uniforme de trabalho nos correios, da roupa que veste em seu primeiro encontro com François e na ocasião em que se tornam íntimos pela primeira vez. Não é à toa, portanto, que seu primeiro encontro desencadeia uma sequência de imagens nas quais o azul é a cor dominante, inclusive aquela na qual François e Thérèse trabalham conjuntamente na sala de sua casa.
A predominância do azul nessa sequência reflete o ponto de vista de François, que neste momento está completamente absorvido por Émilie. O azul vestido por Thèrése nos momentos anteriormente mencionados parece antecipar sua substituição por Émilie na ordem familiar.
Além disso, as cores de ambas se aproximam discretamente em uma cena na qual Thérèse passeia com as crianças no primeiro plano da composição e Émilie aparece no pano de fundo. Nesse caso, Thérèse veste uma saia vermelha e uma blusa com estampa floral em tons de rosa e lilás. Por sua vez, Émilie usa um vestido lilás e um lenço estampado na cabeça, cuja cor dominante é branca. Esse plano conjunto sugere algo em torno da indistinção crescente entre ambas, não apenas pela proximidade física delas, mas também por meio do uso que faz da teoria das cores. O lilás que as aproxima resulta da mistura do vermelho de Thérèse com o azul de Émilie, ambas as cores dessaturadas pelo branco.
Tendo isso em vista, não é possível associar a escolha das cores quentes para Thérèse e das cores frias para Émilie com uma caracterização psicológica das personagens, como se a primeira fosse dócil e sedutora, mas a segunda não. O filme faz uma aplicação da teoria das cores (não da sua psicologia) para demarcar a diferença inicial das duas e sua posterior dissolução.
Deste modo, as cores operam como elementos estruturantes da crítica à despersonalização das mulheres em seu papel social de zelo ao domínio doméstico. Varda é enfática ao afirmar que a “psicologia não me interessa; não é o tema do filme mesmo que você possa usá-la para explicar o comportamento dos personagens” (VARDA apud KLINE, 2018, p. 32).
Quanto a François, seu figurino oscila justamente entre o branco (que na cena anteriormente descrita dessatura as cores das mulheres), eventualmente o preto, o marrom, cores quentes e frias. Em geral, harmoniza-se com o ambiente e com as mulheres com as quais se relaciona.
Por sua vez, os cenários refletem seu estado emocional, reforçando seu ponto de vista como motor lógico-causal da narrativa. Se o mundo de François se torna azul após seu primeiro encontro com Émilie, ele fica majoritariamente vermelho quando ambos vivenciam esse encontro. Nesse caso, as cores são complementadas por palavras que aparecem escritas em placas, explicitando o que está em jogo no momento: “tentação” e “mistério”.
O filme inicia e termina em referência ao impressionismo. Carvalho (2012, p. 7) nota que “os déjeuners sur l´herbe da família Chevalier em Le bonheur são um resgate da tradição impressionista das festividades e passeios pela França interiorana, quando aos domingos burgueses e pequenos burgueses desfrutavam o dia nos piqueniques em meio à natureza”. Na introdução, a família Chevalier passeia no campo na primavera, e todos estão vestidos com cores claras e quentes.
Por sua vez, a conclusão sugere a passagem do tempo não apenas porque agora é Émilie quem ocupa o lugar da esposa e mãe, que antes era de Thérèse, mas também porque é outono. As roupas da família são repletas de significação: enquanto as crianças vestem vermelho, em acordo com a paleta da mãe agora falecida, François e Émilie vestem dourado e tons de marrom, harmonizando-se com o cenário outonal. O amarelo do sol pleno se torna, assim, o dourado das folhas caindo, e esse rebaixamento do tom indica que a felicidade familiar percebida no início não é tão límpida como poderia parecer à primeira vista. Destarte, a referência aos impressionistas consiste em um misto de homenagem e crítica.
Não apenas na conclusão, mas ao longo do filme, o dourado adquire um relevante significado. Após uma sequência de primeiros planos das mãos de Thérèse ao desempenhar atividades domésticas, François abre a tranca da porta da casa da família. Um sinal na rua no qual está escrito “porta dourada” aparece em primeiro plano. Depois, duas estátuas douradas, uma masculina e uma feminina, são mostradas separadas e em sequência.
Posteriormente, um movimento de câmera lateral estabelece a continuidade gráfica entre o sinal da “porta dourada” e o carro de François, que tem a identificação dos dados da carpintaria na qual trabalha escritos em preto sobre o fundo dourado. Em seguida, surge um plano conjunto de um leão com uma leoa. Alguns pássaros sucedem também em um plano conjunto até finalmente chegarmos nos correios, onde vemos as mãos de Émilie em primeiro plano, manipulando um álbum de selos. Um deles é destacado em primeiríssimo plano. Trata-se da reprodução da pintura O par nupcial com a Torre Eiffel (1939), do surrealista Marc Chagall.
O anúncio da porta dourada seria, para Rebecca DeRoo (2018), uma remissão à concepção de “mediocridade dourada”, proposta por Simone de Beauvoir em O segundo sexo (1949). Segundo a filósofa, “o que o otimismo burguês tem a oferecer à noiva certamente não é amor; o ideal brilhante que lhe é imposto é o da felicidade, que significa o ideal de equilíbrio tranquilo em uma vida de imanência e repetição…”. Em outras palavras, trata-se de “uma mediocridade dourada, sem ambição e paixão, dias sem rumo indefinidamente repetidos, uma vida que se arrasta em direção à morte sem questionar seu propósito – é isso que eles queriam dizer com ‘felicidade’” (BEAUVOIR apud DEROO, 2018, p. 64).
A rede associativa de imagens que constitui a passagem das atividades domésticas de Thérèse em primeiro plano até as atividades de Émilie nos correios institui a ligação entre o provável destino de ambas em sua relação com François (quem abre a porta dourada). Não se trata, contudo, da individualização dos problemas; é isso que insinua a aparição da pintura de Marc Chagall.
Ela é composta por um casal de noivos e um cenário circundante absurdo, com animais e instrumentos musicais dispostos sem uma organização espacial lógica, o que lhe confere uma atmosfera de sonho com mescla de elementos reais e fantásticos. Não seria justamente esta a felicidade neste filme de Varda: uma espécie de mediocridade dourada entre o sonho e a realidade?
O uso das cores em Le bonheur aproxima Agnès Varda de uma pintora ou mestra colorista. Carvalho (2012, p. 6-7) reconhece que o sistema cromático é um elemento basilar nessa experiência fílmica, bem como que “a elaboração visual reaviva o tema central”, qual seja, a substituição de uma mulher pela outra. Ademais, “o arranjo que Varda estabelece entre a cor e os códigos fílmicos prescritos desde o roteiro – a discussão da felicidade numa família burguesa patriarcal – emerge de maneira irônica através de uma paleta multicolorida e aparentemente aleatória.” Assim, cores e relações de gênero são trabalhadas conjuntamente.
Tal como demonstrado, contudo, essa aparência “aleatória” à primeira vista não se confirma em uma análise mais detida. As cores empregadas para caracterizar a felicidade neste filme são consequentes. Fazem referência aos impressionistas, em um misto de homenagem às pinturas e crítica aos valores burgueses nelas retratados, mas também adquirem autonomia, como na pintura moderna posterior, na caracterização dos personagens por meio de figurinos e cenários, bem como na realização de comentários que servem ora para reforçar o ponto de vista de François, ora para efetuar uma crítica irônica à sucessão dos acontecimentos.
Agnès Varda ficou conhecida por sua relação com a Nouvelle Vague, em especial, com a Rive Gauche, mas também se destacou por sua atuação feminista e experimental em filmes de ficção, documentários e filmes-ensaios. Além disso, em Le bonheur, ela demonstra uma sólida erudição no trabalho que realiza com as cores, em referência crítica às tendências da arte moderna. Pode ser considerada uma mestra colorista ao mobilizar esse repertório e colocá-lo em circulação no audiovisual com uma cuidadosa eleição daquelas que seriam as cores da felicidade.
*Fernanda Albuquerque de Almeida é doutora em estética e história da arte pela USP.
Referências
AS DUAS FACES DA FELICIDADE. Direção: Agnès Varda. Produção: Parc Films – Mag Bodard. Co-produção de Madeleine Films, Sandrew (Estocolmo), Franscope. Distribuição: Ciné-Tamaris. 1965 (85 min.), son, color, 35mm – 1/66 – 4/3.
BORGES, Cristian; CAMPOS, Gabriela; AISENGART, Inês. (org.). Agnès Varda: o movimento perpétuo do olhar. Rio de Janeiro e São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil, 2006.
CARVALHO, Laura. A cinécriture vardaniana: cor, pintura e teoria feminista em Le bonheur. Revista Movimento, n. 1, 2012. Disponível em: <https://sites.google.com/site/revimovi/edicoes-anteriores/primeira-edicao-1>. Acesso em: 16 dez. 2024.
DEROO, Rebecca J. Filmic and feminist strategies: questioning ideals of happiness in Le bonheur. In: DEROO, R. J. Agnès Varda: between film, photography and art. Oakland: University of California Press, 2018, p. 49-69.
KALMUS, Natalie M. Color consciousness. Journal of the Society of Motion Picture, p. 139-147, 1935.
KLINE, T. Jefferson. Agnès Varda: Interviews. Mississipi: University Press of Mississippi, 2018.
LICHTENSTEIN, Jacqueline. (org.). A pintura – vol. 9: o desenho e a cor. São Paulo: Editora 34, 2021.
NEUPERT, Richard. La couleur et le style visuel dans Le bonheur. In: FIANT, A.; HAMERY, R.; THOUVENEL, E. (ed.). Agnès Varda: le cinéma et au-delà. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2009. E-book.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA