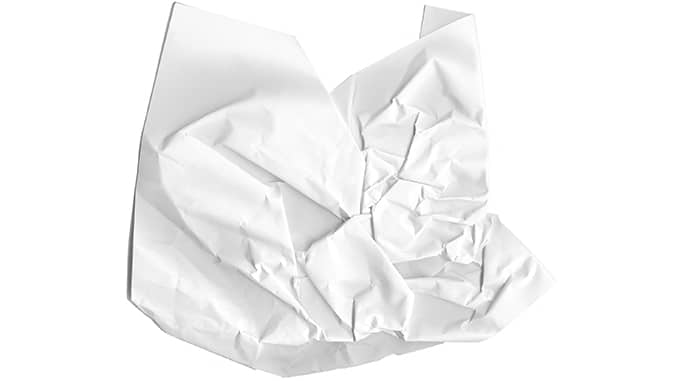Por EMILIO CAFASSI*
Considerações sobre o livro recém-traduzido de Yanis Varoufakis
De vez em quando, surgem textos que, sem aviso, abrem fissuras nas certezas herdadas sobre o capitalismo, especialmente ao longo de sua história. Interesso-me particularmente por aqueles que examinam analogias e diferenças com as teses fundamentais de Karl Marx. Acolho todo revisionismo como uma lufada de ar fresco para o pensamento, mesmo que seus diagnósticos nem sempre sejam compartilhados.
O livro de Yanis Varoufakis, Tecnofeudalismo, vem ganhando popularidade e gerando controvérsia consistente, inscrito nessa atitude intelectual que remonta, sem pretender ser exaustiva, por exemplo, à teoria do imperialismo com Vladímir Lênin, Nikolai Bukharin, Rosa Luxemburgo e Rudolf Hilferding nas primeiras décadas do século passado.
Ou aqueles que ganharam vigoroso impulso no último trimestre com a crise do modelo fordista industrial (Mandel, Aglietta, Braverman, Castells) e boa parte deste século (Negri, Holloway, Lessig, Vercellone, Fuchs, Piketty etc.).
O apelo a um modo de produção passado também não é necessariamente novo para a análise de certos períodos históricos, como na historiografia da colonização da América Latina e seu caráter feudal, capitalista ou mesmo escravista na década de 1970 (Bagú, Gunder Frank, Puigrós, Gorender).
A provocação teórica
O economista grego não abandona sua leitura de Marx: ele a questiona, a provoca, a empurra para além de suas certezas. Sua crítica não vem do lado oposto, mas do próprio centro de sua arquitetura teórica. Como alguém que mora em uma casa velha com fundações sólidas, mas com vazamentos e lascas, ele se recusa a demoli-la, mas exige reformas urgentes. Ele enfatiza que, se o mundo mudou, as categorias que usamos para interpretá-lo também devem mudar.
De forma muito simples, a hipótese central do livro sustenta que não estamos diante de um capitalismo mutante, mas de um novo regime feudal tecnológico. Por exemplo, com a categoria de classe social, já que no tecnofeudalismo, o poder não se organizaria apenas pela propriedade dos meios de produção, mas pelo acesso privilegiado aos fluxos de dados e à infraestrutura digital. Não seria mais o capitalista industrial que dominaria, mas o senhor digital que possui uma nova territorialidade mapeada por interfaces, a nuvem e o canal de circulação.
A figura do explorador não desaparece, mas se transforma, se confunde, se acotovela com a do programador, do designer, do engenheiro. Isso implica uma reconfiguração da estrutura de classes: desestabiliza a centralidade do trabalho assalariado como núcleo da criação de valor. Se Marx revelou que a mais-valia emergia do tempo de trabalho não remunerado, o tecnofeudalismo — diz Yanis Varoufakis — gerou uma forma de extração que não exige salário, nem jornada de trabalho, nem fábrica.
A mais-valia foi substituída pela renda de acesso. E o sujeito explorado não é mais apenas o trabalhador, mas o usuário, o consumidor, o perfil digital, o que o leva a radicalizar sua crítica ao próprio conceito de capitalismo. Não como um sistema abolido, mas como uma abstração teórica insuficiente. Para ele, continuar a chamar essa ordem de “capitalismo” é um ato de nostalgia míope. As regras do capitalismo foram substituídas por uma lógica rentista, fechada, monopolista e predatória.
O que define essa nova ordem não é a acumulação de capital, mas a captura de territórios digitais dos quais a renda é extraída. Yanis Varoufakis não se contenta em simplesmente descrever o capitalismo (de plataforma, cognitivo, de vigilância, informacional etc.); ele o considera uma pele velha que não mais reveste o corpo mutante do presente. Sem negar a continuidade, um salto qualitativo está em curso: o desaparecimento do mercado como espaço de regulação e o retorno de relações servis, mediadas pela tecnologia, mas semelhantes em sua lógica de dependência, controle e acesso desigual.
Naquilo que tem de dessacralizante, é algo a se agradecer — tanto quanto as articulações com teses anteriores. O conflito não se explica mais apenas pelos meios de produção, mas pela conexão, onde a exploração não é apenas laboral, mas existencial. Ele enfatiza que a alienação não decorre mais do trabalho forçado, mas do gozo imposto. E que a emancipação não pode ser concebida sem desafiar a arquitetura digital do mundo.
Sua potência é a do pensamento em movimento, mais do que um manifesto. Seu chamado não é recuperar nostalgicamente a classe trabalhadora ou a força do Estado, mas sim tentar imaginar formas de organização popular que retomem o controle do código, da rede, da nuvem, muito mais o produto de alianças entre o conhecimento técnico e a consciência política: os artesãos do algoritmo, os hackers do desejo, os plebeus de dados.
Lembremos que o feudalismo era um modo de produção em que o poder estava entrincheirado na terra e na carne daqueles que a habitavam. Seu eixo girava não em torno de salários ou contratos, mas sim em torno da vassalagem e da dependência pessoal. O senhor não possuía apenas a terra, mas também o direito consuetudinário à vida dos outros: administrava a justiça, aplicava punições e decidia sobre os corpos e os destinos dos servos.
A economia ainda não havia experimentado a vertigem do mercado: era agrária, fechada, autossuficiente, atrelada aos ciclos naturais e ao tributo que o camponês tinha que pagar — em espécie, em trabalho ou em submissão — em troca do direito de subsistir. Não havia mobilidade, mas herança; não havia competição, mas linhagem.
As relações de produção eram, em sua essência, relações de dominação extraeconômica: o tempo dos outros não era comprado, era exigido; o corpo dos outros não era contratado, era retido. Configurava-se, assim, uma estrutura que reproduzia, vezes sem conta, a eternidade da desigualdade como paisagem natural.
Yanis Varoufakis não é um economista de laboratório, mas um ator disposto a encarar o drama político em primeira mão. No turbulento julho de 2015, como Ministro das Finanças do governo Syriza, envolveu-se num impasse histórico com a “Troika” (BCE, FMI e Comissão Europeia), confrontando a chantagem da dívida com uma proposta que ele próprio chamou de “desobediência construtiva”.
O povo grego apoiou a sua posição com um sonoro “não” no referendo, mas a epopeia logo se transformou em impotência: Alexis Tsipras cedeu à pressão externa, ignorando a vontade popular. Yanis Varoufakis demitiu-se com a amarga dignidade de quem se recusa a aceitar a derrota. Dediquei então vários artigos a essa nova versão da tragédia grega.
A experiência deixou uma marca indelével: a compreensão de que a resistência não pode limitar-se aos limites de um Estado-nação sitiado. Assim nasceu o DiEM25, o seu movimento pan-europeu que propõe reconstruir a democracia a partir de baixo, para além das fronteiras, confrontando o poder financeiro com uma nova imaginação política.
O crepúsculo do capital e a ascensão dos lordes digitais
Alguns morrem como reis sem súditos, envoltos nos adereços rançosos de um poder que não existe mais. Agonizam por muito tempo, agarrados às categorias com as quais outrora descreviam o mundo. Para o autor, tal seria o caso do capitalismo, esse cadáver ilustre que ousa declarar-se definitivamente sem vida, não com júbilo revolucionário ou profecia messiânica, mas com a serenidade sombria de um médico que confirmou a ausência de sinais vitais.
Mas o que se segue a essa morte não é a libertação, mas o nascimento de uma criatura ainda mais temível: o “tecnofeudalismo”, uma ordem em que as antigas cadeias fabris foram substituídas por laços invisíveis feitos de dados, interfaces e protocolos.
Essas novas relações sociais de produção não se baseiam mais na posse dos meios materiais de produção, mas na apropriação das infraestruturas digitais que mediam todas as formas de vida. O que Marx identificou como “capitalistas” — investidores, industriais, banqueiros — foi substituído por uma casta ainda mais etérea e onisciente: os senhores da nuvem, senhores feudais modernos que não precisam possuir trabalhadores ou fabricar bens.
Eles simplesmente possuem as rotas, os portais, as plataformas, as linguagens de programação que traduzem o mundo para nós. É o retorno da senhoria, mas pixelizada, global, onipresente. Eles não fazem negócios: eles impõem condições. Eles não comercializam: eles tributam cada trânsito com uma taxa de acesso.
O capitalismo clássico encontrou seu dinamismo na tensão entre capital e trabalho, na luta pela apropriação da mais-valia. Aqui, porém, não há luta nem negociação: há captura. O trabalhador assalariado não é mais a única figura de exploração. Agora também somos usuários, perfis, rastros digitais. Cada gesto cotidiano, uma busca, um “curtir”, uma rota traçada por GPS, alimenta um sistema que monetiza nossas decisões antes mesmo de tomá-las. A fábrica foi substituída pela interface; o salário, pelo consentimento implícito; o esforço, pela atenção desejável.
Nesse cenário, o mercado, aquele espaço idealizado onde oferta e demanda se cruzam, foi de fato abolido. Não há competição no âmbito do código fechado. As grandes plataformas não competem por eficiência, mas colonizam territórios digitais que administram como propriedades feudais. Google, Amazon, Meta e Apple não são mais empresas: são senhorios computacionais. Elas protegem seus próprios ecossistemas, com regras proprietárias, suas próprias moedas e tribunais internos. A justificativa para a abertura foi suplantada pela do fechamento planejado.
A lógica do tecnofeudalismo é de assimetria absoluta: poucos projetam o mundo em que todos vivem. Yanis Varoufakis insiste: estamos diante de algo que não prolonga o capitalismo, mas sim o nega: uma negação histórica, não uma atualização. Aquele regime em que o valor era gerado pelo trabalho humano e circulava em mercados relativamente livres foi suplantado por outro em que o valor é extraído por meio do monopólio do acesso e do controle dos fluxos de informação.
O capitalismo de vigilância não é apenas mais uma etapa: é algo diferente. Aqueles que insistem em descrever o capitalismo — de plataforma, cognitivo, informacional — praticam um negacionismo nostálgico, para Yanis Varoufakis.
Esta nova ordem não apenas redefine a economia: ela reconfigura a subjetividade. Se o velho proletário sabia que era explorado por seu empregador, o usuário tecnofeudal acredita-se livre enquanto caminha alegremente pelas masmorras de seu próprio confinamento.
Ele se rende voluntariamente à sua vassalagem. Ele se autoproduz como mercadoria. Ele se deleita em sua servidão. A alienação não surge mais do trabalho forçado, mas do prazer codificado. A jornada de trabalho não termina com o relógio: ela continua na cama, no tempo livre, em sonhos monitorados. A internet devora não apenas o tempo de trabalho, mas a vida inteira.
Em resposta, Yanis Varoufakis não se refugia na nostalgia industrialista nem propõe uma reconstituição da nacionalização clássica. Pelo contrário, sua proposta aponta para uma reapropriação democrática do código, uma espécie de comunalismo digital em que a infraestrutura tecnológica é governada coletivamente.
Trata-se menos de proibir plataformas do que de descolonizá-las; menos de impedir a inovação do que de contestar seus fins. Seu sujeito político não é o trabalhador fordista, mas o hacker ético, o artesão algorítmico, a comunidade informada capaz de romper as barreiras do feudo e reconstruir um “bem comum” digital.
Há uma veia libertária em seu pensamento — se é que podemos continuar usando esse adjetivo depois da apropriação lumpenpolítica de Javier Milei na Argentina — que se cruza com a tradição marxista sem se render a ela. Ele respeita Marx, mas não o canoniza. Ele se baseia em seu impulso crítico, mas o força a responder a novas questões. Se o capital não impera mais, se o trabalho assalariado não é mais o centro da economia, se o mercado deixou de existir, como podemos continuar a pensar com as mesmas ferramentas do século XIX?
Yanis Varoufakis não quer matar o marxismo, mas despojá-lo de sua solenidade para forçá-lo a se transformar. Talvez seu gesto mais radical seja este: mais do que inventar uma nova doutrina, ele insta o pensamento crítico a se movimentar novamente, a recuperar seu poder subversivo.
Assim, o tecnofeudalismo se apresenta não apenas como um conceito analítico, mas como uma interpelação ética. Ele nos obriga a questionar quem projeta o mundo em que vivemos, sob quais lógicas de poder o desejo se organiza e se ainda há espaço para a insubordinação. A exploração não é mais imposta pela violência visível, mas pela própria arquitetura do ambiente digital.
A emancipação virá não da tomada do Palácio de Inverno, mas da ocupação simbólica do ciberespaço, de uma imaginação política que reinventa o que significa compartilhar, trabalhar, decidir e desfrutar em comum.
Yanis Varoufakis, ao diagnosticar esta nova ordem, não decreta a sua inevitabilidade. A sua escrita é também uma forma de resistência. Não como um slogan, mas como um pensamento em movimento. Face à servidão algorítmica, propõe uma insurreição epistêmica. Face ao confinamento digital, uma poética dos comuns.
Face ao reinado dos novos senhores, o lembrete persistente de que mesmo os impérios mais invisíveis ruem quando encontram palavras que os denunciam, construções teóricas que os desmascaram e corpos que se recusam a curvar-se.
Ecos da crítica – interpelações do tecnofeudalismo
Toda tese ambiciosa evoca, como um relâmpago em céu limpo, uma tempestade de objeções. A de Yanis Varoufakis não é exceção. Seu compromisso em designar a ordem atual como tecnofeudalismo despertou não apenas um interesse renovado no diagnóstico de época, mas também uma pluralidade de resistências teóricas, originárias de diversas geografias doutrinárias, que vão do marxismo ortodoxo à tecnocracia liberal, passando pela crítica decolonial, o autonomismo e a economia política clássica. Não se trata apenas de uma questão de taxonomia: nomear o presente implica interpretá-lo, e nessa interpretação reside o campo das estratégias políticas futuras.
De perspectivas marxistas menos disruptivas, as críticas se unem em torno de uma acusação central: a de desistoricizar o capitalismo e obscurecer sua dinâmica interna. A acumulação de capital não continua a existir? O trabalho vivo não continua a ser explorado, embora sob formas mais sofisticadas, pelo capital fixo? As relações de classe não se manifestam com evidências brutais nas greves da Amazon, na uberização do trabalho e na precarização globalizada? (Harvey e Wood).
Nessa perspectiva, o tecnofeudalismo nada mais seria do que uma nova máscara para o mesmo deus, uma farsa conceitual que corre o risco de dissolver a categoria de classe, enfraquecendo o antagonismo fundador do sistema. A crítica, então, não nega a novidade das formas digitais, mas contesta sua capacidade de instaurar um modo de produção radicalmente distinto. As plataformas não seriam senhores feudais, mas camadas renovadas de capital, envoltas em névoas algorítmicas.
Uma segunda linha de crítica vem do campo da economia política descritiva (Brenner e Streeck), que se opõe à falta de delimitação empírica precisa do conceito. O que o diferencia estruturalmente do capitalismo de vigilância ou de plataforma? Quais relações de produção, quais formas legais, quais regimes de acumulação o definem?
Parece que Yanis Varoufakis usa a metáfora feudal mais esteticamente do que analiticamente, obscurecendo mais do que revela. Para esses críticos, falar de tecnofeudalismo pode ser enganoso: não há servos presos à terra, não há dízimo, não há vassalagem legal. A lógica permanece a do mercado, embora distorcida, e os Estados continuam a desempenhar papéis fundamentais na reprodução do sistema. Em suma, seria uma hipérbole estilística, poderosa para comover consciências, mas fraca como categoria teórica da historiografia.
Do pensamento decolonial e da teoria da dependência, as críticas se deslocam para o eixo geopolítico. O tecnofeudalismo é um fenômeno global ou se restringe aos centros do capitalismo digital? Que lugar ocupam os países periféricos, aqueles onde a exploração não é algorítmica, mas diretamente física, violenta e extrativista?
Aqui, a tese de Yanis Varoufakis parece eurocêntrica (Marini e Quijano). Ele ignora — ou subestima — que em vastas regiões do mundo o capital continua a operar da mesma forma: desapropriação, pilhagem de recursos, superexploração do trabalho, subjugação de comunidades indígenas. Não há senhorios digitais nos campos de lítio da Bolívia ou nas minas de coltan do Congo. Nem entre as ruínas de Gaza, mas apenas terra arrasada e colonização.
Lá, o feudo não é um algoritmo, mas uma retroescavadeira guardada por paramilitares ou um exército de ocupação. Para esses críticos, o tecnofeudalismo é uma espécie de narrativa do norte, incapaz de capturar as formas combinadas e desiguais de capital em sua implantação global.
Também não faltam contestações vindas de dentro dos marxismos, como o autonomismo italiano, que, embora reconheça a mutação tecnológica do capital, não subscreve a ideia de ruptura no modo de produção (Negri-Hardt e Lazzarato). Para eles, as transformações digitais não fundam um novo regime feudal, mas sim intensificam o caráter biopolítico do capitalismo: a produção não se limita mais à mercadoria, mas se estende à subjetividade, ao desejo, à linguagem e ao corpo.
Em vez de feudalismo, o que veríamos é uma expansão ilimitada do capital para todas as esferas da vida. A verdadeira subsunção não é mais apenas do trabalho, mas da existência. Yanis Varoufakis seria, então, excessivamente taxonômico, preso à lógica das categorias históricas, quando o que se exige é uma crítica à produtividade ontológica do capital.
Mesmo dentro do liberalismo progressista, há quem levante objeções. Não tanto por discordarem do diagnóstico de poder concentrado, mas pela forma como Yanis Varoufakis parece minar qualquer possibilidade de inovação democrática no setor tecnológico. Plataformas, argumentam, não são, por definição, antidemocráticas: sua governança pode ser contestada, regulada e transformada (Mazzucato e Morozov).
O feudalismo, por outro lado, refere-se a uma estrutura fechada, imutável e essencialmente regressiva. Falar de tecnofeudalismo implicaria resignar-se a um cenário sem saída. Onde estão, então, as políticas públicas, a legislação antitruste ou a soberania digital? Para esses críticos, Yanis Varoufakis exagera na distopia e estreita o escopo de ação no presente. Seu apocalipse conceitual pode levar à paralisia estratégica.
Mas talvez a crítica mais sugestiva venha de uma área menos disciplinada: a da poesia política contemporânea, onde a linguagem é medida não apenas por sua precisão, mas por sua capacidade de mobilização, por seu caráter performático. A partir daí, alguns sugerem que o tecnofeudalismo é uma imagem poderosa, mas que pode servir melhor como um artefato provocativo do que como uma estrutura analítica (Jameson, Byung-Chul Han).
Não se exige que ele explique com precisão ou rigor tipológico, mas sim que incite, agite e desafie o senso comum. Nessa leitura, a proposta de Yanis Varoufakis se inscreve na longa tradição herética do pensamento crítico, que prefere exagerar a aquiescer, gritar a sussurrar. Poderia então ser lida como um gesto mais literário do que doutrinário, mais situacionista do que científico. E, nesse gesto, talvez resida seu maior valor.
Em última análise, as críticas ao tecnofeudalismo não devem ser lidas como refutações finais, mas como diálogos de fronteira, tensões produtivas que impulsionam o pensamento para além de suas zonas de conforto. Yanis Varoufakis não precisa estar certo em todos os detalhes para que sua proposta tenha força.
Basta que nos incomode, que nos force a revisar nossos mapas, que nos roube a confortável certeza de continuar a chamar de “capitalismo” tudo o que oprime. Em tempos de domesticação semântica, inventar novas palavras é um ato de rebelião.
E embora tecnofeudalismo não seja o nome definitivo para o nosso presente, ele sem dúvida aponta para uma rachadura, uma fissura por onde se infiltra outra leitura possível do mundo implacável e infernal que habitamos. Talvez a questão não seja se vivemos em um tecno-feudo, mas sim se ainda resta palavra para se rebelar e redesenhar o futuro.
*Emilio Cafassi é professor sênior de sociologia na Universidade de Buenos Aires.
Tradução: Artur Scavone.
Referência

Yanis Varoufakis, Tecnofeudalismo: o que matou o capitalismo. Campinas, Editora Crítica, 2025, 240 págs. [https://amzn.to/3I3KOAG]
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA